... que é possível aceitar a legitimidade do outro (mesmo quando o outro está em outro “campo”);
Não existem inimigos naturais ou permanentes.
O primeiro pressuposto da democracia é que as pessoas aceitem a legitimidade das outras pessoas, que são diferentes delas, que têm pontos de vista diversos sobre algo ou sobre tudo, e que, portanto, aceitem o conflito que pode decorrer dessa diferença como algo normal.
Isso parece óbvio, mas não é. É muito difícil aceitar o conflito como algo inerente à pluralidade social em vez de julgá-lo como uma disfunção que deva ser corrigida.
Da aceitação do conflito decorre um modo não-violento de regulação do conflito. A maneira (política) de fazer isso é preservando a existência e procurando manter a convivência entre os conflitantes e não demitindo as pessoas que divergem, mandando-as calar a boca com base em nossa autoridade ou excluindo-as dos lugares que freqüentamos.
Em política, tudo começa na relação com o outro. Não é em mim, nem nele, mas no entre eu-e-ele que a política acontece. Como escreveu certa feita Hannah Arendt (1950), “a política baseia-se na pluralidade dos homens... [mas] o homem é a-político. A política surge no entre-os-homens; portanto totalmente fora dos homens. Por conseguinte, não existe nenhuma substância política original” (1).
Assim, não apenas o primeiro mas o pressuposto fundamental da democracia é reconhecer e aceitar a legitimidade do outro. Admiti-lo no nosso espaço de vida. Não recusar em princípio participar de seu espaço de convivência.
A democracia está fundada no princípio de que os seres humanos podem gerar coletivamente projetos comuns de convivência que reconheçam a legitimidade do outro. Ao contrário da autocracia, em que o modo predominante de regulação do conflito passa pela negação do outro, por meio da violência e da coação, a democracia, como afirmou o biólogo chileno Humberto Maturana (1993), é um sistema de convivência “que somente pode existir através das ações propositivas que lhe dão origem, como uma co-inspiração em uma comunidade humana” (2), pelo qual se geram acordos públicos entre pessoas livres e iguais em um processo de conversação que, por sua vez, só pode se realizar a partir da aceitação do outro como um livre e um igual.
A idéia de que existem “campos” dentro dos quais podemos aceitar a legitimidade do outro e “campos” em relação aos quais seja legítimo negar-lhe legitimidade, conspira contra a democracia. Mais do que isso: impede a democracia. Ninguém pode ser considerado um participante ilegítimo do processo democrático pelo fato de ter sido colocado em outro “campo” por obra de ideologia e assim transformado em inimigo.
Para a democracia todas as inimizades políticas são circunstanciais e reversíveis. Destarte, não existem inimigos naturais ou permanentes que possam ser definidos por razões extrapolíticas: quer por sua posição em relação ao processo de produção, quer por sua riqueza, conhecimento, cultura, crença, língua, nacionalidade, gênero, etnia, cor ou outra condição física ou psíquica.
A não-aceitação da legitimidade do outro leva necessariamente à autocracia. Se, seguindo a sugestão do pensador alemão Carl Schmitt (1932), concebemos o outro como a alteridade que representa a negação do próprio modo de existir e se, assim, em nome da sobrevivência de um grupo, da conservação e da afirmação da sua identidade, achamos que ele deve ser encarado, antes de qualquer coisa, como inimigo real ou potencial, então já não há possibilidade de democracia.
A idéia de que o outro é um potencial inimigo – em vez (ou antes) de ser um provável parceiro – leva à idéia da necessidade de se estar sempre preparado contra ele, de se precaver, de se armar contra o outro para ter como reagir caso ele resolva investir contra nós ou mesmo para dissuadi-lo de intentar tal investida.
Mas ser democrata é aceitar que nosso modo de vida possa ser alterado pelo modo de vida do outro. Significa reconhecer que o outro pode constituir uma alternativa válida ao nosso way of life, ao nosso próprio modo de ser. Significa admitir que as pessoas que estão sob nossa influência podem passar a ser influenciadas pelo outro. Significa assumir que o outro, pelo fato de não ser um eu-mesmo, não configura um “outro lado” e que, por isso, não deve ser exilado em outro “campo”. Não, ele é apenas um outro, sem o qual não pode acontecer a política.
Se os espanhóis não aceitam a legitimidade dos bascos e vice-versa não pode haver solução democrática para o conflito que surgiu da separação entre tais culturas. Se os palestinos não aceitam a legitimidade dos israelenses (e vice-versa), idem. Se os estatistas não aceitam a legitimidade daqueles que consideram neoliberais e fecham as portas dos encontros que realizam à sua participação, idem-idem. Não havendo solução democrática, sobrevirão modos autocráticos de regulação de conflitos: ou a guerra, que não é a continuação da política por outros meios e sim a sua falência; ou a prática da política como “arte da guerra”, que é igualmente autocratizante.
Toda política que divide o mundo sempre em “campos” opostos, encarando quem não está no mesmo “campo” como um inimigo, como um ator ilegítimo, insere-se em uma corrente de autocratização da democracia.
Conviver com o outro – ou aceitá-lo na convivência – é ser capaz de dialogar com ele. A democracia (no sentido “forte” do conceito) é uma capacidade de diálogo amistoso que surge no exercício da conversação na praça (quer dizer, no espaço público), que pode ser aperfeiçoado a ponto de gerar aquilo que Pierre Levy (1994) comparou, em “A inteligência coletiva”, com um “coral polifônico improvisado”. Segundo Levy, em contraposição aos sistemas de convivência em que se enunciam proposições monótonas, repetições de palavras de ordem em manifestações e jargões de identidade de militantes do mesmo partido, a democracia pode tomar como modelo o coral polifônico improvisado:
“Para os indivíduos o exercício é especialmente delicado, pois cada um é chamado ao mesmo tempo a escutar os outros coralistas; a cantar de modo diferenciado; a encontrar uma coexistência harmônica entre sua própria voz e a dos outros, ou seja, melhorar o efeito de conjunto.
É necessário, portanto, resistir aos três “maus atrativos” que incitam os indivíduos a cobrir a voz dos seus vizinhos, cantando demasiado forte, a calar-se, ou a cantar em uníssono.
Nessa ética da sinfonia, o leitor terá percebido as regras da conversação civilizada, da polidez, ou do savoir-vivre – o que consiste em não gritar, em não repetir o que eles acabam de dizer, em responder-lhes, em tentar ser pertinente e interessante, levando em conta o estágio da conversa...
Essa nova democracia poderia assumir a forma de um grande jogo coletivo, no qual ganhariam (mas sempre provisoriamente) os mais cooperativos, os mais urbanos [ou com mais civilidade], os melhores produtores de variedade consonante...
E não os mais hábeis em assumir o poder, em sufocar a voz dos outros ou em captar as massas anônimas...” (3).
O primeiro pressuposto da democracia é que as pessoas aceitem a legitimidade das outras pessoas, que são diferentes delas, que têm pontos de vista diversos sobre algo ou sobre tudo, e que, portanto, aceitem o conflito que pode decorrer dessa diferença como algo normal.
Isso parece óbvio, mas não é. É muito difícil aceitar o conflito como algo inerente à pluralidade social em vez de julgá-lo como uma disfunção que deva ser corrigida.
Da aceitação do conflito decorre um modo não-violento de regulação do conflito. A maneira (política) de fazer isso é preservando a existência e procurando manter a convivência entre os conflitantes e não demitindo as pessoas que divergem, mandando-as calar a boca com base em nossa autoridade ou excluindo-as dos lugares que freqüentamos.
Em política, tudo começa na relação com o outro. Não é em mim, nem nele, mas no entre eu-e-ele que a política acontece. Como escreveu certa feita Hannah Arendt (1950), “a política baseia-se na pluralidade dos homens... [mas] o homem é a-político. A política surge no entre-os-homens; portanto totalmente fora dos homens. Por conseguinte, não existe nenhuma substância política original” (1).
Assim, não apenas o primeiro mas o pressuposto fundamental da democracia é reconhecer e aceitar a legitimidade do outro. Admiti-lo no nosso espaço de vida. Não recusar em princípio participar de seu espaço de convivência.
A democracia está fundada no princípio de que os seres humanos podem gerar coletivamente projetos comuns de convivência que reconheçam a legitimidade do outro. Ao contrário da autocracia, em que o modo predominante de regulação do conflito passa pela negação do outro, por meio da violência e da coação, a democracia, como afirmou o biólogo chileno Humberto Maturana (1993), é um sistema de convivência “que somente pode existir através das ações propositivas que lhe dão origem, como uma co-inspiração em uma comunidade humana” (2), pelo qual se geram acordos públicos entre pessoas livres e iguais em um processo de conversação que, por sua vez, só pode se realizar a partir da aceitação do outro como um livre e um igual.
A idéia de que existem “campos” dentro dos quais podemos aceitar a legitimidade do outro e “campos” em relação aos quais seja legítimo negar-lhe legitimidade, conspira contra a democracia. Mais do que isso: impede a democracia. Ninguém pode ser considerado um participante ilegítimo do processo democrático pelo fato de ter sido colocado em outro “campo” por obra de ideologia e assim transformado em inimigo.
Para a democracia todas as inimizades políticas são circunstanciais e reversíveis. Destarte, não existem inimigos naturais ou permanentes que possam ser definidos por razões extrapolíticas: quer por sua posição em relação ao processo de produção, quer por sua riqueza, conhecimento, cultura, crença, língua, nacionalidade, gênero, etnia, cor ou outra condição física ou psíquica.
A não-aceitação da legitimidade do outro leva necessariamente à autocracia. Se, seguindo a sugestão do pensador alemão Carl Schmitt (1932), concebemos o outro como a alteridade que representa a negação do próprio modo de existir e se, assim, em nome da sobrevivência de um grupo, da conservação e da afirmação da sua identidade, achamos que ele deve ser encarado, antes de qualquer coisa, como inimigo real ou potencial, então já não há possibilidade de democracia.
A idéia de que o outro é um potencial inimigo – em vez (ou antes) de ser um provável parceiro – leva à idéia da necessidade de se estar sempre preparado contra ele, de se precaver, de se armar contra o outro para ter como reagir caso ele resolva investir contra nós ou mesmo para dissuadi-lo de intentar tal investida.
Mas ser democrata é aceitar que nosso modo de vida possa ser alterado pelo modo de vida do outro. Significa reconhecer que o outro pode constituir uma alternativa válida ao nosso way of life, ao nosso próprio modo de ser. Significa admitir que as pessoas que estão sob nossa influência podem passar a ser influenciadas pelo outro. Significa assumir que o outro, pelo fato de não ser um eu-mesmo, não configura um “outro lado” e que, por isso, não deve ser exilado em outro “campo”. Não, ele é apenas um outro, sem o qual não pode acontecer a política.
Se os espanhóis não aceitam a legitimidade dos bascos e vice-versa não pode haver solução democrática para o conflito que surgiu da separação entre tais culturas. Se os palestinos não aceitam a legitimidade dos israelenses (e vice-versa), idem. Se os estatistas não aceitam a legitimidade daqueles que consideram neoliberais e fecham as portas dos encontros que realizam à sua participação, idem-idem. Não havendo solução democrática, sobrevirão modos autocráticos de regulação de conflitos: ou a guerra, que não é a continuação da política por outros meios e sim a sua falência; ou a prática da política como “arte da guerra”, que é igualmente autocratizante.
Toda política que divide o mundo sempre em “campos” opostos, encarando quem não está no mesmo “campo” como um inimigo, como um ator ilegítimo, insere-se em uma corrente de autocratização da democracia.
Conviver com o outro – ou aceitá-lo na convivência – é ser capaz de dialogar com ele. A democracia (no sentido “forte” do conceito) é uma capacidade de diálogo amistoso que surge no exercício da conversação na praça (quer dizer, no espaço público), que pode ser aperfeiçoado a ponto de gerar aquilo que Pierre Levy (1994) comparou, em “A inteligência coletiva”, com um “coral polifônico improvisado”. Segundo Levy, em contraposição aos sistemas de convivência em que se enunciam proposições monótonas, repetições de palavras de ordem em manifestações e jargões de identidade de militantes do mesmo partido, a democracia pode tomar como modelo o coral polifônico improvisado:
“Para os indivíduos o exercício é especialmente delicado, pois cada um é chamado ao mesmo tempo a escutar os outros coralistas; a cantar de modo diferenciado; a encontrar uma coexistência harmônica entre sua própria voz e a dos outros, ou seja, melhorar o efeito de conjunto.
É necessário, portanto, resistir aos três “maus atrativos” que incitam os indivíduos a cobrir a voz dos seus vizinhos, cantando demasiado forte, a calar-se, ou a cantar em uníssono.
Nessa ética da sinfonia, o leitor terá percebido as regras da conversação civilizada, da polidez, ou do savoir-vivre – o que consiste em não gritar, em não repetir o que eles acabam de dizer, em responder-lhes, em tentar ser pertinente e interessante, levando em conta o estágio da conversa...
Essa nova democracia poderia assumir a forma de um grande jogo coletivo, no qual ganhariam (mas sempre provisoriamente) os mais cooperativos, os mais urbanos [ou com mais civilidade], os melhores produtores de variedade consonante...
E não os mais hábeis em assumir o poder, em sufocar a voz dos outros ou em captar as massas anônimas...” (3).
Indicações de leitura
Para começar, seria bom ler alguns textos, importantíssimos, de Hannah Arendt (c. 1950), compilados por Ursula Ludz como fragmentos das “Obras Póstumas” (1992): O que é política?.
Também seria muito importante ler, pelo menos, dois textos de Humberto Maturana: com Gerda Verden-Zöller, Amor y Juego: fundamentos olvidados de lo humano – desde el Patriarcado a la Democracia (1993) e La Democracia es una Obra de Arte (s./d.)
Notas
(1) Cf. Arendt, Hannah (c. 1950). O que é política? (Frags. das “Obras Póstumas” (1992), compilados por Ursula Ludz). Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998.
(2) Cf. Maturana, Humberto & Verden-Zöller, Gerda (1993). Amor y Juego: fundamentos olvidados de lo humano – desde el Patriarcado a la Democracia. Santiago: Editorial Instituto de Terapia Cognitiva, 1997.
(3) Levy, Pierre (1994). A inteligência coletiva. Por uma antropologia do ciberespaço. São Paulo: Loyola, 1998.
Para começar, seria bom ler alguns textos, importantíssimos, de Hannah Arendt (c. 1950), compilados por Ursula Ludz como fragmentos das “Obras Póstumas” (1992): O que é política?.
Também seria muito importante ler, pelo menos, dois textos de Humberto Maturana: com Gerda Verden-Zöller, Amor y Juego: fundamentos olvidados de lo humano – desde el Patriarcado a la Democracia (1993) e La Democracia es una Obra de Arte (s./d.)
Notas
(1) Cf. Arendt, Hannah (c. 1950). O que é política? (Frags. das “Obras Póstumas” (1992), compilados por Ursula Ludz). Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998.
(2) Cf. Maturana, Humberto & Verden-Zöller, Gerda (1993). Amor y Juego: fundamentos olvidados de lo humano – desde el Patriarcado a la Democracia. Santiago: Editorial Instituto de Terapia Cognitiva, 1997.
(3) Levy, Pierre (1994). A inteligência coletiva. Por uma antropologia do ciberespaço. São Paulo: Loyola, 1998.
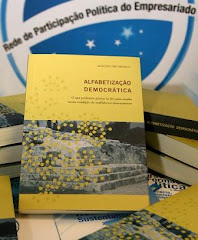

Nenhum comentário:
Postar um comentário